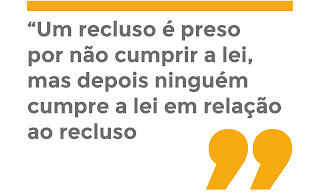O segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff se iniciou
com a promulgação da “PEC da bengala”, emenda constitucional que, ao ampliar a
idade de aposentadoria compulsória, pôs fim a expectativa de que ela nomeasse,
até o fim de seu governo, mais cinco ministros do Supremo Tribunal Federal –
inclusive dois dos últimos três que não foram nomeados por um presidente do PT.
Diante do impeachment, já se especula sobre a possibilidade
de, apesar da postergação da aposentadoria compulsória desses ministros para
depois do fim de seu mandato, algum dos atuais ministros se aposente
voluntariamente, possibilitando a nomeação de um ou mais ministros pelo PMDB,
que atualmente domina também a Câmara e o Senado.
O último ano do governo Barack Obama foi marcado pela morte
súbita de Antonin Scalia e, consequentemente, a surpreendente possibilidade de,
ao nomear um sucessor para sua vaga na Suprema Corte, garantir uma maioria de
juízes liberais (nomeados por presidentes do Partido Democrata). Possibilidade
obstruída pela maioria Republicana no Senado, que se recusou a sequer sabatinar
e votar a nomeação de Merrick Garland, candidato indicado por Obama em março de
2016.
Com eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados
Unidos, antes mesmo do início de seu mandato, já se especula sobre quem ele
nomeará para a vaga ainda aberta de Scalia, bem como sobre que outras vagas
poderão se abrir durante o seu governo, considerando a idade avançada de alguns
dos juízes liberais e o fato de o Partido Republicano controlar a Presidência,
a Câmara e o Senado.
A centralidade desse tema para campanhas eleitorais,
mandatos presidenciais e para a vida política dessas duas democracias
constitucionais chama a atenção. Sua importância é produto, simultaneamente, do
sucesso e de fracassos do direito constitucional e, por isso, requer maior
reflexão.
A Constituição é produto da política. Ela estrutura a política
e a política é capaz de influenciar o significado de normas constitucionais.
Portanto, não surpreende que a briga pelo controle do seu significado seja uma
disputa política fundamental. No entanto, o desenho específico da jurisdição
constitucional, especialmente dos poderes, duração dos mandatos e forma de
nomeação dos juízes de tribunais constitucionais, pode aumentar ou diminuir a
sua influência e a radicalização política em torno de sua escolha.
Dependendo de certos fatores, o direito constitucional, ao
estruturar os contornos do debate político pode diminuir a radicalização da
política ou limitar a radicalização a certos pontos – enquanto mantém outros
fora de debate. No entanto, sob certas condições, pode ocorrer o contrário:
haver consenso sobre boa parte da política, mas uma disputa fundamental sobre a
permanência ou sobre o significado de um dos pilares de uma ordem
constitucional. Isso pode ocorrer em período de calmaria sobre outras questões
políticas e econômicas e, nesse caso, o debate político pode ser dominado por
esse conflito constitucional. Mas isso também pode ocorrer em períodos de
intenso debate sobre questões não constitucionais, situação em que, a mistura
do debate político constitucional com o debate político infraconstitucional
pode impedir que a Constituição faça uma de suas funções: domesticar a disputa
política.
Funções Constitucionais
Constituições podem fazer muitas coisas, mas,
independentemente das múltiplas escolhas individuais que podem ser feitas pelos
constituintes, de maneira geral, constitucionalizar uma decisão política
significa retirar essa questão do debate legislativo normal e, com isso, da
política eleitoral ordinária.
O que isso implica na prática?
Em um sistema em que alterar o texto da constituição exige
uma supermaioria, tudo aquilo que foi constitucionalizado está, até certo
ponto, imune de decisões tomadas por maiorias políticas, tanto aquelas
existentes no eleitorado como, em sistemas não perfeitamente proporcionais,
aquelas existentes no legislativo.
Essa é, de certa maneira, a função primordial de uma
Constituição.
Afinal, ao se estruturar o espaço de conflito político, a
primeira garantia que deve ser assegurada é a de que as regras estabelecidas
para essa disputa não serão simplesmente alteradas em benefício próprio por
quem quer que tenha vencido a última eleição.
Garantir o poder de uma minoria bloquear alterações nas
regras eleitorais é garantir que, perdendo ou ganhando uma eleição, a não ser
que mudanças sejam em benefícios de todos, a próxima disputa se dará pelas
mesmas regras.
Nesse sentido, a Constituição, por definição, protege
minorias políticas ao garantir a estabilidade da disputa eleitoral.
No entanto, normalmente, Constituições não regulam apenas o
jogo eleitoral. Fazem mais. Dão essa mesma garantia supermajoritária a outras
escolhas políticas substantivas que tenham sido constitucionalizadas. Ou seja,
garantem esse poder de veto de uma minoria política, não só em relação a
mudanças das regras do jogo, mas também em relação a mudanças quanto a algumas
– por vezes, muitas – escolhas políticas substantivas.
Note-se que, nesse sentido, não há nenhum julgamento de
valor sobre os méritos ou deméritos dos interesses dessas minorias. “Minorias”
podem ser ou não ser grupos tradicionalmente oprimidos em uma sociedade. Nesse
sentido, a proteção pode ser ou não ser em benefício da sociedade como um todo
e dos grupos mais desfavorecidos econômica e socialmente. Ao garantir o statu
quo, o poder de veto de uma minoria pode impedir transformações radicais de uma
sociedade para o bem ou para o mal.
Uma cláusula pode garantir um direito fundamental a uma
minoria oprimida, mas pode também garantir um privilégio a uma minoria
opressora. Em qualquer caso, a garantia impede que uma mera vitória eleitoral.
Mesmo uma maioria eleitoral que tenha garantido o domínio de um mesmo projeto
político sobre a Presidência, a Câmara e o Senado (em um sistema
presidencialista bicameral, em que esse feito já é naturalmente mais difícil)
pode ser incapaz de alterar o texto da Constituição, ou transformar
radicalmente a sua interpretação por meio do judiciário.
Muitas vezes, esse pode parecer um custo muito alto a pagar.
Especialmente para aqueles que acreditam em um projeto político transformador
que traria grande benefício para a sociedade. Mas esse é o preço que se paga
para que cada eleição não seja uma disputa de vida ou morte. Para que, ao
retirar certas coisas do controle de uma maioria eleitoral, seja possível
admitir uma derrota com a tranquilidade de que certas instituições e garantias
são estáveis o suficiente para que se viva normalmente sob um governo com o
qual se discorde (mesmo que, radicalmente), enquanto se prepara para disputar
as próximas eleições.
Mais concretamente, são essas garantias que permitem que os
proprietários dos meios de produção não peguem em armas ou abandonem o país
diante de uma vitória de um partido comunista em uma democracia constitucional
que proíba a expropriação, bem como que minorias étnicas, religiosas, sexuais
ou nacionais não temam por sua vida e segurança, pegando em armas ou
abandonando o país, diante de uma vitória de uma partido de direita radical, em
uma democracia constitucional que lhes garanta certos direitos fundamentais.
Mais concretamente ainda, é essa função Constitucional que
permite que cidadãos americanos potencialmente afetados por algumas das medidas
radicais anunciadas por Donald Trump em sua campanha presidencial tenham fé de
que as instituições os protegerão.
Mas, há um outro lado dessa moeda:
São também essas garantias que permitem que certos eleitores
Republicanos que rejeitam completamente algumas dessas mesmas medidas radicais,
confiantes na sua impossibilidade constitucional, tenham votado em Trump para a
presidência.
Ou seja, para o bem e para o mal, essa fé nas instituições
constitucionais, protege minorias diante da eleição de um governo radical, mas
também permite que, em certa medida, em vista da possibilidade do “voto
múltiplo” (que explico em seguida), eleitores não radicalizados votem em um
partido e coloquem no poder um governo defensor de posições radicais, mesmo sem
concordar especificamente com elas.
Há aí um grande perigo: de que mesmo sem uma maioria
substantiva nesse sentido, certas opções de desenho constitucional permitam que
um governo eleito sem um mandato efetivo para mudar os pilares fundamentais da
ordem constitucional seja capaz de, direta ou indiretamente, fazer exatamente
isso.
Discutir tais opções de desenho constitucional é
fundamental, e é esse o objetivo final deste artigo.
No entanto, antes disso, é preciso ter claro o que se
entende por “voto múltiplo”, bem como debater a possibilidade de que um governo
seja de fato eleito para mudar os pilares da ordem constitucional.
Passo agora a esses dois pontos.
Voto Múltiplo
O que eu chamo de “voto múltiplo” é basicamente o seguinte:
votar em um candidato é votar em muitas coisas ao mesmo tempo. Isso parece
óbvio, no entanto, o fato de que, normalmente, o eleitor não concorda com todas
as opções defendidas pelo “seu” candidato, mas o elege mesmo assim, merece
destaque.
Isso pode ocorrer em maior ou menor grau dependendo do
sistema eleitoral. Um sistema proporcional não distrital – ou com distritos
muito grandes – pode minimizar esse fenômeno. Um sistema majoritário distrital
em que o normal é ter apenas dois, ou no máximo três, candidatos competitivos
para escolher, maximiza esse fenômeno.
Em qualquer caso, é possível que o eleitor tenha que votar
em um candidato de quem discorde em alguns pontos, mesmo que a discordância
seja intensa, e mesmo que ela seja sobre um ponto fundamental para esse mesmo
eleitor.
Em certa medida, o que acabei de descrever é apenas o fato
de que qualquer eleição se resume, por definição, a uma questão de escolha.
Assim, diante de algumas opções, é natural que o eleitor, ao escolher, decida
quais são suas prioridades, dando mais valor a uma questão do que a outra.
Mas, normal ou não, há aí um risco inerente ao sistema. Que,
somando se as escolhas individuais, seja formada uma bancada com posição
majoritária sobre um tema sem que, no entanto, haja apoio a ele pela maioria
dos eleitores.
Um exemplo pode tornar o tema mais claro.
Imaginemos dois candidatos. O candidato A é um religioso,
que se opõe a pena de morte e a diversas demandas do movimento feminista. O
candidato B é um feminista, particularmente preocupado com violência contra a
mulher e que defende a pena de morte para estupradores.
Como um feminista radicalmente contrário a pena de morte
escolheria? Como um conservador radicalmente favorável a pena de morte
escolheria? O risco está em que o primeiro, sem querer, eleja uma maioria
favorável a pena de morte.
O risco é que o segundo, sem querer, eleja uma maioria
radicalmente contraria a pena de morte.
Mas essas escolhas não se dão em um vácuo institucional.
Eleger candidatos assim em um sistema sem uma Constituição rígida é muito
diferente de o fazer em um sistema em que ela exista e, além do mais, seguindo
ainda este exemplo, tenha algo substantivo a dizer sobre a pena de morte.
Talvez a Constituição já preveja a pena de morte
necessariamente para alguns casos. Talvez a Constituição já a proíba
terminantemente para qualquer caso. Talvez isso decorra do texto inequívoco da
Constituição. Talvez isso decorra da interpretação de cláusulas abertas e
princípios da Constituição. Em qualquer desses casos, a existência de uma norma
constitucional que regule a questão muda completamente a situação.
Nesse caso, é possível votar em um candidato de quem se
discorde completamente em alguma questão, porque se concorda profundamente com
ele em outra, não simplesmente por um desses temas ser mais importante para si
em abstrato, mas sabendo, em concreto, que o outro não está em jogo no momento,
porque requereria uma transformação constitucional que não tem chances de
acontecer naquele momento.
É esse tipo de garantia, ou melhor, de fé na efetividade de
uma garantia constitucional, que permite não só que um membro de uma minoria
potencialmente afetada diretamente por políticas radicais defendidas por Trump
durma tranquilo (mesmo que decepcionado) com a sua vitória. É esse tipo de
garantia que também permite que alguém que discorde totalmente de Trump em
diversos temas, inclusive esses, possa votar nele, movido, por exemplo,
puramente por estar frustrado com a política econômica Democrata e imaginando
que as outras medidas, proibidas que são pela Constituição, não estão realmente
em questão.
No entanto, esse exemplo se complica quando as próprias
permissões e proibições constitucionais parecem estar em jogo. Ou seja, quando
além de eleitores votando por suas preferências infraconstitucionais, seguros
da estabilidade de certas garantias constitucionais, há outros fazendo
exatamente o oposto, votando com o objetivo de transformar certos pilares da
Constituição, sem dar prioridade às preferências infraconstitucionais que
possam estar em jogo numa determina eleição.
Ou seja: se o voto de alguns parte da premissa de que há
certas áreas imutáveis, o de outros é orientado justamente pela insatisfação
com essas áreas e a esperança de mudá-las.
Isso pode ocorrer, por exemplo, porque uma proposta de
mudança constitucional está explicitamente em debate durante a eleição. Nesse
caso, o eleitor tem que considerar suas preferências levando em conta a
possibilidade da própria Constituição ser emendada. Assim, além de suas
prioridades políticas específicas, e da existência de garantias constitucionais
que imunizem algumas escolhas do poder de simples maioria, deverá considera a
probabilidade de aprovação de uma emenda constitucional sobre um determinado
tema. Algo que depende de uma análise política sobre o tamanho do apoio para
essa medida, mas também de uma análise institucional sobre quão fácil – ou
difícil – é o procedimento para se emendar o texto constitucional.
Essa situação é mais simples porque o debate político é
explicito, mas também porque as regras do jogo e os riscos são claros para
todos os envolvidos.
No entanto, nem só por meio de emendas se muda uma
Constituição.
Uma outra forma de o fazer é alterando o seu significado –
sem alterar o seu texto – por meio na nomeação para Tribunais Constitucionais
de juízes que compartilhem da sua visão sobre a melhor interpretação do texto
constitucional.
Nesse tipo de situação, votar para um presidente e / ou para
um representante no legislativo pode ser também votar para um tipo de juiz
constitucional e, com isso, votar pela mudança da própria Constituição.
Juízes Eleitos
Quando a própria interpretação constitucional se torna um
tema central da política, e a possibilidade de mudar o seu significado por meio
da nomeação de juízes comprometidos com uma visão transformadora do seu
significado é uma possibilidade real, a capacidade de o direito constitucional
garantir a estabilidade de certas decisões, independentemente do confronto
eleitoral, pode ser profundamente fragilizada.
Na melhor das hipóteses, esse debate será feito às claras, e
o desenho institucional garantirá que a mudança ocorrerá apenas se o governo
eleito tiver o mesmo tipo de apoio substancial que uma emenda constitucional
demandaria.
No entanto, nem sempre é assim. Por vezes, a falta de
previsibilidade no sistema de indicações e o desenho seu institucional
específico podem fazer com que um governo seja capaz de gerar mudanças
substantivas, difíceis de serem revertidas por maiorias políticas subsequentes,
sobre temas constitucionais fundamentais, sem que isso tenha sido adequadamente
discutido durante a campanha eleitoral ou, mesmo que tenha sido, sem que os
riscos de seu real acontecimento estivessem claros no momento da eleição.
O encontro do voto múltiplo, com a possibilidade de
transformação constitucional por meio da nomeação de juízes, com um desenho
institucional que permita a imprevisibilidade do momento e da duração dessa
mudança cria uma situação particularmente preocupante.
Por isso, é fundamental discutir a contribuição de soluções
de desenho constitucional para evitar, ou ao menos minimizar, esse problema.
Desenho Constitucional
Diferentes opções de desenho constitucional podem afetar
profundamente a possibilidade uma vitória eleitoral majoritária significar
também uma grande transformação constitucional.
Duas merecem destaque: (i) o processo para nomeação de
juízes constitucionais, (ii) a existência de mandatos que permitam (a)
previsibilidade quanto ao tamanho da possível transformação na composição do
tribunal a cada ciclo eleitoral e (b) o tamanho da influência de uma única
nomeação na composição do tribunal no decorrer do tempo.
Quanto à primeira, um processo em que o presidente nomeia e
uma maioria simples do Senado confirma (como é o caso nos Estados Unidos e no
Brasil) é particularmente permeável a influência de maiorias políticas
ocasionais.
Nesse tipo de sistema, em que aquele que ganhou uma eleição
presidencial majoritária tem completa liberdade de nomear quem quiser, e para
impedir essa nomeação, não importa quão transformador o seu potencial, seja
necessária uma maioria dos senadores, a influência constitucional de um
presidente é particularmente acentuada.
Quanto à segunda, sistemas em que não há mandatos para
juízes constitucionais (como é o caso nos Estados Unidos e no Brasil) e,
portanto, não há qualquer previsibilidade sobre quantos juízes cada presidente
poderá nomear, pois depende apenas da eventualidade da morte ou aposentadoria
de um deles, a potencial influência constitucional de um único presidente se
potencializa significativamente.
Isso se daria tanto quanto ao tamanho da transformação que
pode ser realizada em um único mandato presidencial, quanto em relação à
duração dessa influência pela possibilidade de cada um de seus nomeados
permanecer no tribunal por tempo indeterminado.
É claro que, independentemente de mandatos, a eventualidade
da morte ou de uma exoneração voluntária estaria sempre presente, no entanto,
regras sobre o que fazer nessas hipóteses poderiam minimizar o impacto desse
tipo de eventualidade.
Quanto ao sistema brasileiro, é importante notar que a
aposentadoria compulsória dá uma previsibilidade mínima ao sistema (não
deixando a abertura de vagas simplesmente nas mãos da imprevisibilidade da
morte ou da decisão pessoal de um juiz negar, ou possibilitar, a nomeação de
seu substituto a um determinado presidente), mas ela afeta pouco a segunda
questão (da influência desproporcional de um juiz ou de outro conforme a sua
idade no momento da nomeação) e, consequentemente, da influência
desproporcional e aleatória de um presidente ou de outro, conforme mais ou
menos ministros façam setenta e cinco anos no decorrer do seu mandato.
A somatória de (i) a possibilidade de um presidente com uma
maioria simples do Senado nomear quem quiser para o tribunal e (ii) a ausência
de mandatos que tornem o número e influência de cada uma dessas nomeações
previsíveis e igualmente distribuídas entre todos os presidentes eleitos é,
portanto, particularmente problemática.
Essa combinação gera um risco irrazoável para a estabilidade
constitucional que, de duas uma, ou é despercebida pelo eleitor médio, que pode
ser surpreendido por uma grande transformação constitucional ser produto de uma
única eleição, ou é percebida pelo eleitor médio, tematizada na campanha,
tornando toda eleição numa potencial disputa pelos pilares fundamentais da
ordem constitucional.
No primeiro caso, o risco é uma transformação
independentemente do apoio de uma efetiva maioria. Nessa hipótese, o sistema
não protege significativamente maiorias de decisões radicais por parte de seus
governantes.
No segundo, o risco é uma transformação permanente como
consequência de uma única vitória eleitoral por uma simples maioria. Nessa
hipótese, o direito constitucional perde o poder de estabilizar o debate
político sobre certos temas constitucionais, seja por retirá-lo da discussão,
seja por tornar as chances e os riscos de sua transformação claros o suficiente
para que nem toda eleição seja necessariamente um plebiscito sobre pilares
fundamentais da ordem constitucional.
Em qualquer dos casos, o risco é grande e os problemas
substanciais.
Não há dúvida de que o significado e a permanência de
compromissos constitucionais devem ser permeáveis à política. No entanto, a sua
potencial transformação não pode depender simplesmente da sorte ou do azar.
Um sistema em que simples maiorias políticas podem
transformar a Constituição por meio da nomeação de juízes constitucionais pode
ser defensável em nome de uma maior permeabilidade do direito constitucional à
política. No entanto, um sistema em que maiorias políticas têm maior ou menor
influência nesse processo a depender do acaso da morte ou das escolhas pessoais
de juízes é particularmente difícil de se justificar.
Nesse sentido, mandatos fixos para juízes constitucionais,
que permitam que cada presidente tenha uma influência garantida, mas moderada,
a cada eleição, não é simplesmente a escolha mais justa. É também uma opção por
um modelo capaz de gerar maior estabilidade política para uma democracia
constitucional, permitindo que o direito constitucional realize uma de suas
funções fundamentais: domesticar a disputa política.
Thomaz H. Junqueira de A. Pereira é professor da FGV Direito
Rio, doutorando e mestre em Direito pela Yale Law School; mestre em Direito
Empresarial pela PUC-SP; mestre em Direito Processual Civil e bacharel em
Direito pela USP.